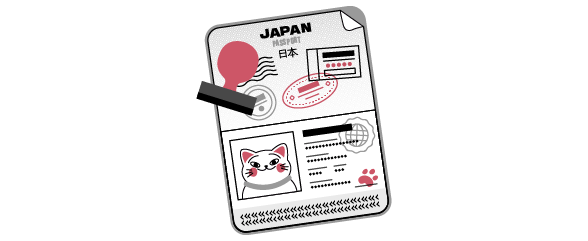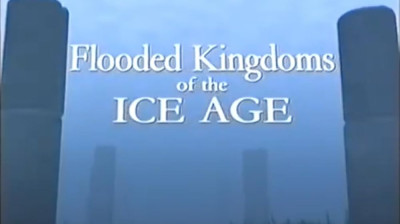
MUNDO SUBTERRÂNEO - REINOS INUNDADOS DA ERA DO GELO 2002
Entre 17.000 e 7.000 anos atrás, no final da última Era Glacial, coisas terríveis aconteceram ao mundo em que nossos ancestrais viviam. Grandes calotas polares sobre o norte da Europa e a América do Norte derreteram, enormes inundações devastaram a Terra, o nível do mar subiu mais de 100 metros e cerca de 25 milhões de quilômetros quadrados de terras antes habitáveis foram engolidos pelas ondas. A arqueologia marinha tornou-se possível como disciplina acadêmica há cerca de 50 anos, desde a introdução do mergulho autônomo. Nesse período, segundo Nick Flemming, decano da arqueologia marinha britânica, apenas 500 sítios submersos contendo vestígios de qualquer tipo de estrutura feita pelo homem ou de artefatos líticos foram encontrados em todo o mundo. Desses sítios, apenas 100 — isso mesmo, 100 no mundo todo! — têm mais de 3.000 anos. Isso não se deve à escassez de sítios arqueológicos potenciais. Deve-se, pelo menos em parte, ao fato de que grande parte dos recursos limitados disponíveis para a arqueologia subaquática é destinada à descoberta e escavação de naufrágios. Isso resulta em uma carência de arqueólogos mergulhadores interessados em estruturas subaquáticas e em falta de verbas para custear a atividade extremamente dispendiosa de busca – possivelmente infrutífera – por ruínas muito antigas, erodidas e cobertas por lodo, em grandes profundidades. Além disso, com a recente exceção do levantamento do Mar Negro realizado por Bob Ballard para a National Geographic Society, a arqueologia subaquática simplesmente não se preocupou com a possibilidade de que as inundações pós-glaciais possam estar de alguma forma relacionadas ao problema do surgimento das civilizações.